Já antes aqui falei de Dungeons & Dragons, do importante papel que o jogo teve para a minha carreira de autor e das muitas horas de prazer e inspiração que me deu. E também já falei de Baldur’s Gate e de como esse jogo de computador deu origem à mais detestável bebida de Allaryia. Mas, como as minhas prioridades mudaram bastante, tenho jogado muito pouco desde há uns anos para cá, e não tenho qualquer campanha de D&D a decorrer de momento. Porém, ao concluir A Era da Ruína, senti-me estranhamente nostálgico e lembrei-me de um cenário de campanha de Dungeons & Dragons muito especial. Por isso, vou discorrer um pouco acerca de um jogo em particular.
Planescape foi um dos muitos cenários de campanha de Dungeons & Dragons, uma esdrúxula fantasia interplanar com uma estética bizarra muito diferenciada, cujos textos eram escritos num calão a fazer lembrar gíria dickensiana. Era extremamente imaginativo e, talvez mais do que qualquer outro, dava corpo à noção de que o único verdadeiro limite é o da imaginação. Era também um cenário para jogadores «pensantes», com comparativamente poucas estatísticas e muita coisa conceptual e filosófica, em que saber dar voz a questões existenciais era mais importante do que rolar dados para vencer um inimigo, por exemplo. Inimigo esse para o qual o Mestre de Jogo muito provavelmente não tinha grandes estatísticas para o caso de haver um combate, uma vez que se tratava mais de uma ideia corporificada do que um adversário.
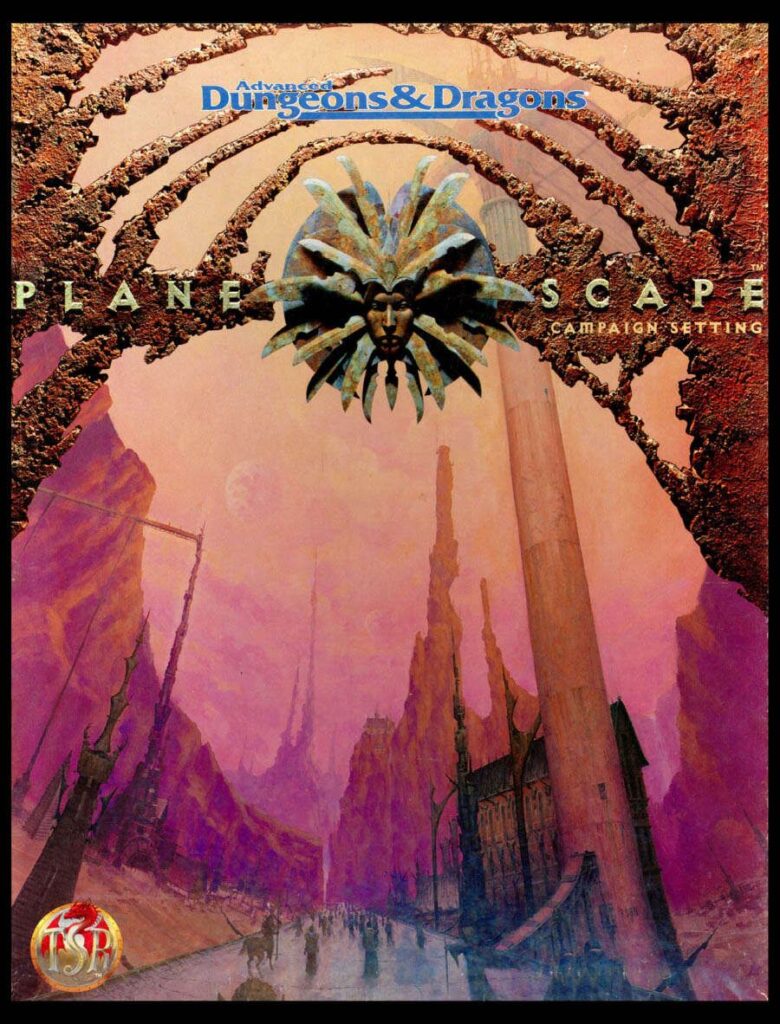
Era um universo fantástico. E, de início não puxou nada por mim. Achei-o demasiado esquisito, a roçar o pretensioso, e o calão tornava os textos difíceis de ler. E havia uma tremenda dissonância entre a arte quase vanguardista das capas e as ilustrações no interior, que eram maioritariamente feitas pelo Tony DiTerlizzi (que alguns de vocês provavelmente conhecerão d’As Crónicas de Spiderwick). Não sentia vontade de explorar algo tão pouco convencional, quando a fantasia arquetípica de outros cenários de campanha me enchia perfeitamente as medidas. E assim permaneci, sem qualquer vontade de me aventurar por meandros interplanares, nem mesmo quando foi lançado um jogo de computador baseado em Planescape.

Certa noite, um amigo meu pernoitou em minha casa e deu-lhe para começar a jogar um jogo que um colega lhe tinha emprestado: Planescape: Torment. Nós os dois já tínhamos jogado Baldur’s Gate juntos em memoráveis sessões a dois, e eu sabia que, ainda que o jogo pudesse ser uma estucha, jogá-lo com o meu amigo não teria como não ser divertido (falo da mesma pessoa que fez estas cartas de Magic baseadas na Manopla de Karasthan). Por isso, lá instalámos a coisa e começámos a jogar sem expectativas de maior.
Enquanto homem feito, casado e quarentão, já tenho algum pejo em dizer que um jogo mudou algo em mim. Mas não é exagero nenhum afirmar que, ao longo da minha vida, houve para mim duas formas distintas de encarar a fantasia: antes de Planescape Torment e depois de Planescape Torment. Não foi algo de imediato, até porque as coisas levaram o seu tempo a germinar e cristalizar, e durante muitos e bons anos continuei a viver e escrever a fantasia da mesma forma. Aquilo que foi imediato – ou pelo menos ao fim de cerca de quinze minutos de jogo – foi o dar-me conta de que estava perante algo de especial. Não só diferente, mas genuinamente especial.
Até hoje, não me lembro de ter jogado outro jogo com tamanha qualidade narrativa. Sem qualquer hipérbole, é possível copiar e colar os diálogos e descrições e, com alguns acréscimos, fazer do resultante texto um livro (tanto, o é, que houve uma pessoa que o fez – podem ainda encontrar uma leitura mais recheada de imagens e de acréscimos aqui). Tem uma riqueza descritiva acima da média, caracterizações cativantes praticamente a cada esquina, um enredo absolutamente memorável e um nível de autenticidade muito, mas mesmo muito sui generis, qualidades que permitem aos seus defeitos passar em claro. Por alguma razão, costumo pensar nele como o melhor jogo que já li, embora também se destaque em várias outras categorias, como apresentação, banda sonora, sonoplastia, etc.
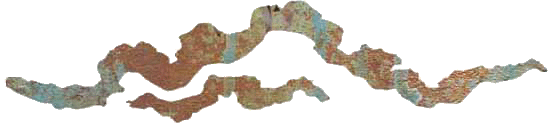
Não quero falar muito mais sobre o jogo, porque ele merece de facto ser jogado (ou lido). Eu fi-lo, por mais do que uma vez, e até fui mais longe: comecei uma campanha de Dungeons & Dragons que serviu como sucessora espiritual do jogo e como tardia carta de amor a um universo ao qual não soube dar o devido valor quando este estava no seu auge. Infelizmente, foi daquelas campanhas que não se conseguem terminar devido às interferências da vida, mas ter traçado o enredo dela deu-me tanto prazer como escrever um livro e não foi muito diferente do trabalho de criar um.
Aliás, é capaz de até ter dado mais trabalho, porque havia ainda que escrever as estatísticas da bicharada, dar uns retoques ao sistema de jogo para o tornar mais planescapeano e envolvente, adaptar a gíria para português e fazer com que os meus jogadores de facto sentissem que os seus personagens eram diferentes a toda a linha de quaisquer outros que tivessem interpretado no passado. Como se isso não bastasse, decidi também que iria ter uma carga de trabalho desnecessária e tentar emular à minha maneira o grafismo dos livros de Planescape.

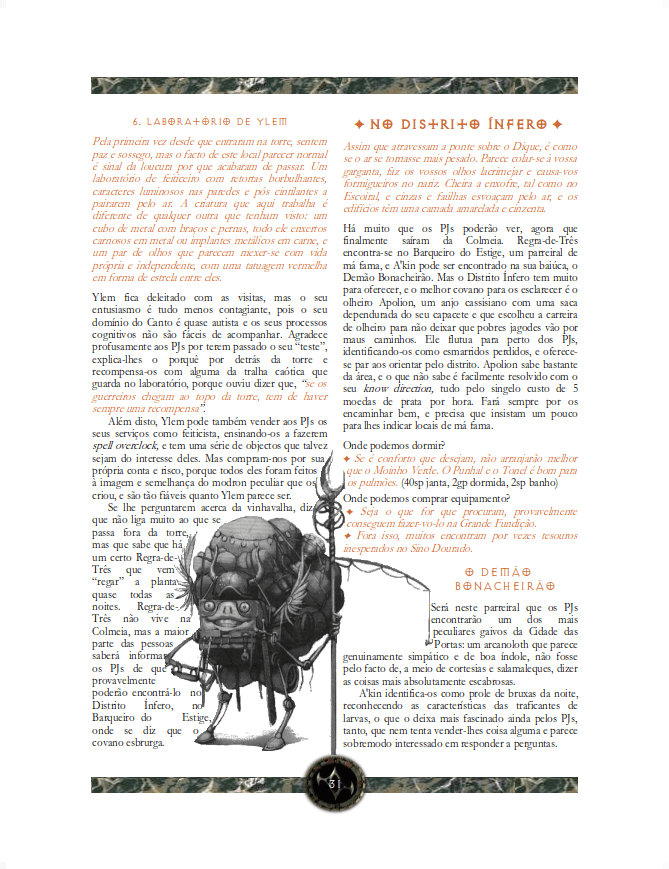
Muito trabalho, portanto. Talvez demasiado trabalho para uma campanha, provavelmente outro motivo pelo qual não cheguei a concluí-la. Mas o prazer foi tido, os bons momentos foram passados, as ideias estão lá, e quem sabe se um dia não perco a cabeça e me dá para converter aquilo tudo num livro propriamente dito. Certo é que Planescape perdura na minha imaginação, como o evidenciam certos capítulos d’A Era da Ruína, e achei que isso merecia uma Anamnese, porque é daquelas influências que faço questão de deixar bem claras, na esperança de que outros possam vir a ter o mesmo prazer que eu tive ao desfrutar delas.
